Educando o Genealogista no Século XXI – Parte II: O Problema Educacional do Genealogista
- Eduardo Padilha dos Santo

- 7 de ago. de 2025
- 7 min de leitura

Introdução
Se na Parte I exploramos como a genealogia se tornou uma prática viva e coletiva no século XXI, agora precisamos enfrentar uma pergunta que atravessa silenciosamente a trajetória de muitos entusiastas e pesquisadores: por que é tão difícil aprender genealogia com método?
Penso que, quando não somos respondidos no que procuramos, abrimos espaço para pensar o que queremos. E é exatamente isso que acontece quando a pesquisa genealógica avança sem direção ou com uma única direção: a ausência de respostas claras acaba sendo preenchida por suposições, atalhos e interpretações livres.
A abundância de dados, plataformas, comunidades e as novas linhas de entendimento, como os testes de DNA, a epigenética e a psicogenealogia contrasta com uma realidade incômoda — a escassez de formação estruturada. Muitos aprendem sozinhos, por tentativa e erro. E, após anos de pesquisa, acabam voltando ao ponto de partida, percebendo que o que faltou lá atrás não foi informação, mas método.
Neste caminho solitário, o erro deixa de ser exceção e se torna padrão. Não por falta de vontade, mas por falta de um roteiro minimamente confiável para seguir.
Por onde começamos... e por que tropeçamos?
A maioria dos genealogistas — amadores ou não — começa da mesma forma:
Motivações legais e práticas (nacionalidade, herança, cidadania),
Interesse histórico-cultural,
Busca espiritual ou existencial,
Resgate da memória familiar,
Sentido de identidade e pertencimento,
Curiosidade sobre sobrenomes e origens étnicas
Esse ponto de partida é legítimo — e muitas vezes encantador. Seja pelo desejo de descobrir suas origens étnicas, de obter uma dupla cidadania, ou ainda de se reconectar com familiares distantes, muitos indivíduos se lançam na genealogia movidos por causas nobres: o resgate da memória familiar, o fortalecimento da identidade, a construção de um legado, ou mesmo a curiosidade sobre sobrenomes e linhagens.
Há também quem busque compreender padrões de sua história familiar à luz da psicogenealogia, ou quem veja na investigação genealógica um instrumento histórico, cultural, espiritual ou até jurídico. Essas motivações — plurais e legítimas — compõem a beleza da genealogia como prática humana profunda.
No entanto, o que vem depois costuma se transformar em uma jornada repleta de atalhos perigosos: copiar árvores prontas, aceitar suposições como verdades e confiar cegamente nas sugestões automáticas das plataformas digitais. E é aqui que o propósito inicial se dilui.
O resultado? Em vez de histórias concretas, tecidas com método e crítica, temos um amontoado de nomes e datas — fragmentos soltos que, sem contexto, pouco dizem sobre quem somos, de onde viemos, e por que exatamente fazemos genealogia.

“Aprender genealogia sem método é como montar um quebra-cabeça de olhos fechados: as peças até se encaixam, mas formam a imagem errada.”
O que falta na formação do genealogista? E como contrapor?
Mesmo com o avanço tecnológico e o acesso crescente a acervos digitais, a genealogia ainda carece de uma base educacional sólida. Muitos se aventuram nesse campo por paixão, mas poucos são os que recebem formação sistemática. Isso gera lacunas que se manifestam nas práticas cotidianas do pesquisador — especialmente quando a genealogia é vista apenas como a construção de árvores e não como um campo multidisciplinar.
A seguir, aponto em meu ver os principais pontos dessa deficiência e proponho práticas que aproximem o genealogista do século XXI de uma atuação mais crítica, ética e integrada com os saberes contemporâneos, incluindo a genética, a psicogenealogia e a epigenética.
1. Ausência de formação formal
A genealogia ainda não é reconhecida como disciplina estruturada nos currículos escolares ou universitários — com raríssimas exceções. Não há diretrizes pedagógicas, bibliografias canônicas amplamente difundidas, nem metodologias didáticas voltadas para formar genealogistas críticos e éticos. Isso faz com que o aprendizado seja muitas vezes fragmentado e autodidata.
Contraponto prático: Um dos primeiros passos do genealogista deve ser buscar fontes confiáveis de aprendizado, como cursos, congressos e grupos de estudo, além de construir uma base metodológica sólida desde o início. Conhecimentos introdutórios sobre genética populacional e interpretação de testes de DNA, por exemplo, já deveriam integrar a base curricular mínima de um genealogista contemporâneo.
2. Aprendizado empírico e solitário
A maior parte dos iniciantes aprende por tentativa e erro. Sem mentoria, sem trilhas estruturadas, acabam por criar critérios subjetivos de validação. O resultado é o risco do “parece certo”, onde a lógica pessoal se sobrepõe ao rigor documental.
Prática essencial: Registrar tudo com método, anotar fontes, manter um diário de pesquisa e desenvolver o hábito de cruzamento entre documentos — isso evita vícios metodológicos. A leitura de obras como as de Anne Ancelin Schützenberger, que introduzem a psicogenealogia como instrumento de reflexão, pode ajudar o pesquisador a perceber que genealogia não é apenas factual, mas também simbólica e afetiva.
3. Repetição de erros em escala
Num ambiente digital, um erro documentado e replicado por centenas de usuários adquire ares de verdade consensual. Essa “cascata de consenso” (como definem alguns estudiosos da informação) transforma suposições em verdades aparentes, contaminando outras árvores genealógicas.
Prática preventiva: Desenvolver senso crítico sobre fontes, verificar originalidade e autenticidade dos registros e sempre preferir documentos primários (certidões, registros oficiais) a “árvores prontas”. Aqui, os testes de DNA podem ser aliados para validar ou refutar vínculos em casos de dúvida, principalmente em contextos de adoção, famílias reconstruídas ou escravidão.
4. Desinformação algorítmica
As plataformas digitais oferecem facilidades, mas também alimentam atalhos perigosos. Conexões automáticas, sugestões baseadas em popularidade ou aproximações nominais geram vínculos frágeis, sem consistência documental.
Prática consciente: Dominar as ferramentas digitais com espírito crítico — utilizar as sugestões apenas como pistas e nunca como provas. Manter-se independente dos algoritmos na condução da pesquisa exige também autonomia intelectual e ética documental.
5. Falta de diálogo com áreas correlatas
A genealogia frequentemente ignora campos como a história social, demografia histórica, genética, paleografia, psicologia transgeracional e arquivologia. Essa fragmentação empobrece a análise e impede leituras mais profundas.
Prática interdisciplinar: O genealogista deve buscar fundamentos em outras áreas — como aprender paleografia, noções de latim, estrutura eclesiástica, história local — para dar densidade ao seu trabalho. Além disso, o estudo da epigenética pode ampliar a compreensão dos impactos históricos herdados, enquanto a psicogenealogia ajuda a mapear os vínculos emocionais e transgeracionais que atravessam os membros de uma família.
6. Falta de consciência ética
A ausência de uma formação ética sistematizada leva à exposição indevida de informações de terceiros, apropriação de pesquisas alheias, e uso irresponsável de dados sensíveis.
Prática ética: Respeitar a privacidade dos vivos, sempre citar fontes e ter discernimento ao divulgar dados que envolvem menores, adoções, ou situações delicadas. Especialmente no uso de testes genéticos, é necessário compreender as implicações éticas, legais e emocionais desses dados.
7. Falta de padrões de organização
Muitos genealogistas acumulam arquivos sem estrutura, com documentos desorganizados, pastas caóticas e ausência de nomenclatura padronizada, o que dificulta o controle e a preservação da pesquisa.
Prática fundamental: Criar um sistema claro de organização física e digital, padronizando nomes de arquivos, datas, locais e formatos desde o início da pesquisa. Essa prática facilita a integração entre dados genealógicos clássicos e dados genéticos, que exigem documentação cuidadosa.
8. Ausência de formação continuada
Como não há uma cultura de educação continuada em genealogia, muitos param no tempo, não se atualizam sobre novas descobertas documentais, nem sobre métodos de análise mais refinados.
Prática constante: Participar de congressos, webinários, grupos de pesquisa e manter-se atualizado com publicações e debates da área. Acompanhar o avanço de ferramentas de análise genética, softwares genealógicos, e estudos em psicogenealogia e epigenética é parte da formação do genealogista do século XXI.
9. Desconhecimento das limitações das fontes
O genealogista iniciante muitas vezes não sabe avaliar a confiabilidade de um documento, ignorando contextos históricos, lacunas de registros e limitações dos acervos utilizados.
Prática analítica: Aprender a classificar as fontes como primárias, secundárias, terciárias, e saber o que cada uma pode — ou não — comprovar. Entender também as limitações dos testes genéticos, que apontam probabilidades e afinidades, mas não substituem os registros documentais.
10. Falta de repertório reflexivo sobre a própria prática
Falta ao genealogista uma autorreflexão crítica sobre o próprio ofício: por que pesquisa? Para quem? Com que propósito? Quais impactos essa pesquisa gera nos outros?
Prática reflexiva: Cultivar o hábito de escrever sobre a própria trajetória como genealogista, seus métodos, dúvidas e descobertas. Incorporar olhares como o da psicogenealogia, que propõe entender os efeitos das heranças emocionais e traumas familiares, ajuda a dar sentido mais profundo ao trabalho genealógico.
Conclusão:
Diante de tantas possibilidades abertas pelas novas tecnologias, descobertas científicas e plataformas digitais, é paradoxal constatar que a genealogia do século XXI ainda tropeça nos fundamentos da prática investigativa. O problema não é a falta de acesso à informação — é a ausência de formação crítica, reflexiva e ética que permita transformar esses dados em conhecimento significativo.
A genealogia, quando tratada apenas como a montagem de árvores, perde seu poder formador. Quando entendida como campo interdisciplinar — que cruza história, genética, psicologia e memória — ela se torna uma ferramenta potente de reconstrução pessoal, social e simbólica.
Educar o genealogista é, portanto, mais do que ensinar técnicas: é formar o olhar e o juízo, é abrir caminho para que esse pesquisador compreenda o lugar da genealogia não apenas nos arquivos, mas na vida — e sobretudo, na vida dos outros.
Nesse sentido, não basta saber por onde começar; é preciso saber por onde não continuar errando. E, mais do que isso, é preciso transformar a pesquisa genealógica em um exercício de consciência, responsabilidade e legado.
“Educar o genealogista é preparar alguém para lidar com vidas, não apenas com nomes.”
Para onde seguimos?
Se até aqui examinamos os principais obstáculos da formação genealógica e propusemos caminhos para uma prática mais crítica e interdisciplinar, é preciso agora dar um passo adiante. A genealogia não se esgota no domínio de técnicas ou na aquisição de documentos. Ela nos interpela, sobretudo, como linguagem de pertencimento, memória e identidade.
👉 Na próxima parte desta série — “Parte III – Para além da árvore: o futuro da genealogia como linguagem, legado e consciência” — iremos explorar como transformar a pesquisa genealógica em linguagem de pertencimento, que respeite o passado, ilumine o presente e ofereça sentido às gerações futuras. Porque mais importante do que saber de onde viemos é compreender o que faremos com essa herança — e como iremos contá-la.
🔗 Perdeu a Parte I?

Escrito por: Eduardo Padilha dos Santos
Analista de dados e pesquisador de genealogia. MBA em Ciência de Dados. Mantenedor do site O Meu Legado, unindo história, memória e tecnologia.
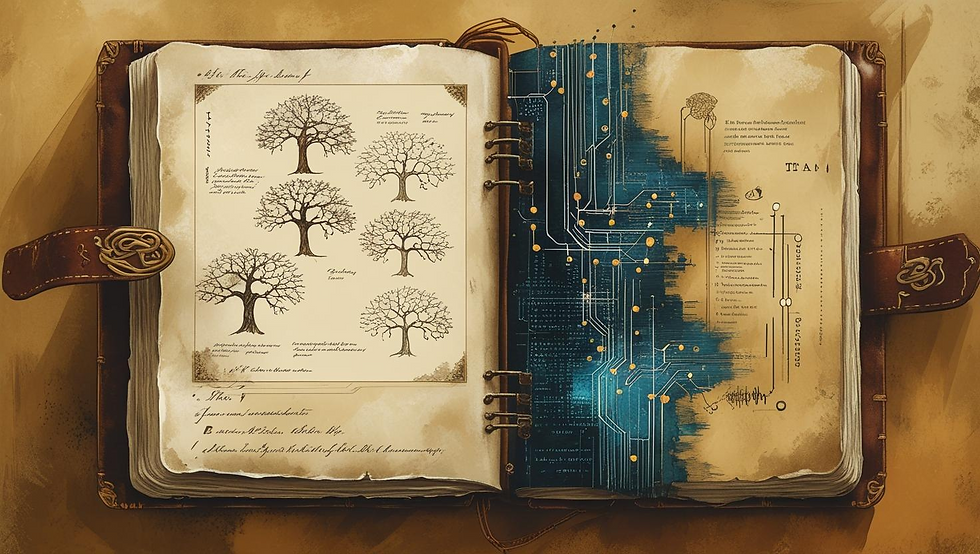

Comentários